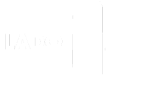por Rede Lado | out 4, 2021 | Blog, Cultura, Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Diversidade, Geral
Em maio deste ano, a Justiça do Trabalho comemorou 80 anos de sua instalação no país. Criada por decreto, dois anos antes, no auge da ditadura estadonovista, a instauração efetiva somente veio a acontecer em maio de 1941.
Essa senhora tem muito a contar.
Surgiu em um período em que o Estado e a Igreja Católica buscavam promover a conciliação entre as classes sociais, negando e reprimindo os conflitos nas relações sociais de produção, onde representantes do capital e do trabalho deveriam conviver de modo harmônico abdicando de seus interesses classistas em benefício dos nacionais, constantemente identificados com um dos lados dessa correlação de forças. Desnecessário enunciar qual deles.
Considerada a importância atribuída a essa pacificação social, em especial, em um contexto político externo com a Segunda Guerra Mundial e com a presença marcante do fantasma do Comunismo no Brasil – aliás, algo que jamais passou de uma ameaça imaginária, porém útil para a formulação do discurso mítico, com a apresentação de um inimigo poderoso a ser combatido –, a opção consistiu em vincular-se a instituição recém surgida ao Poder Executivo Federal, possibilitando-se assim um controle mais efetivo sobre ela. Não havia, portanto, razão a cogitar-se independência ou autonomia. Com a Constituição de 1946, o Poder Judiciário a incorporou.
Esse fato não se mostra suficiente a retirar a importância da Justiça do Trabalho para os/as trabalhadores/as, eis que a demanda por mecanismos para tornar exigíveis as normas recém criadas para regular as relações de trabalho era constante nos movimentos insurgentes, organizados em sindicatos oficiais ou ainda nas antigas entidades sindicais paralelas à estrutura estatal. Portanto, por mais que interessasse (e muito) ao Estado, a nova instituição também representava o atendimento de uma reivindicação da classe trabalhadora.
Nas suas oito décadas de existência, a Justiça do Trabalho atravessou, com alguns sobressaltos, momentos político-jurídicos marcantes na história do país, como o golpe civil-militar de 1964 e, por consequência, a Constituição autoritária de 1967 e a, mais autoritária ainda, Emenda de 1969. Ganhou arranjos democráticos com o fim da ditadura e a promulgação da Constituição de 1988 e viu-se mais poderosa com a ampliação de sua competência material pela Emenda Constitucional 45, de 2004.
Ainda altiva e vigorosa, em julho de 2017, a Justiça do Trabalho observou um atentado contra a sua existência, com a publicação da Lei 13.467, que alterou mais de duas centenas de dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tais modificações implicavam profunda transformação no Direito Material e Processual do Trabalho, assim como no direito sindical. Mas, merece maior destaque, uma das razões das mudanças, uma das fontes materiais da nova legislação: a difusão da ideia de que aquela senhora estava ultrapassada e, por atrapalhar o desenvolvimento econômico, deveria sair de cena, o mais rápido possível.
Tal qual um de seus milhões de reclamantes – trabalhadores/as que depois de uma vida dedicada ao trabalho, à empresa, são dispensados/as como maquinário obsoleto, como peça em desuso, cuja inutilidade é certificada pelos novos tempos e por gerações de trabalhadores/as mais jovens, ágeis e baratos/as –, a Justiça do Trabalho foi escanteada, colocada em segundo plano de importância para, finalmente, quem sabe, depois de uma rápida transição, ser extinta.
Logo ela, que prestou tão valorosos serviços ao Estado? Estruturada para funcionar como mediadora institucional nos conflitos entre capital e trabalho, missão cumprida com afinco e eficiência por 80 anos, ao contribuir com a estabilidade social e propugnar a conciliação nas relações sociais de produção como mote de existência, passava a ser desprezada pelos representantes políticos do capital que lhe rotulavam como trava ao crescimento econômico.
Ela, que tão bem atendeu aos propósitos para os quais foi instituída, passara a ser segregada, tratada como indesejada, como ultrapassada. Ela e os ramos do Direito que lhe serviam de instrumental não são mais desejáveis. O enredo neoliberal aponta para outra direção, para a desregulamentação das relações de trabalho, para o enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores/as, afinal, a ideologia da classe dominante espraia-se para as demais e torna hegemônica a forma de existir, da qual resulta a crença de que suprimir direitos gera crescimento econômico.
Neste cenário, os representantes do grande capital no parlamento e no Poder Executivo parecem acreditar no fim da função pacificadora da Justiça do Trabalho. Decerto, também creem na incapacidade da classe trabalhadora organizada de lhes importunar, de criar-lhes sobressaltos nas relações sociais de produção e mecanismos de atenuação da mais-valia.
A representação do grande capital age no sentido de retirar as concessões realizadas no passado em forma de legislação trabalhista e social, pois, a atual etapa do capitalismo mostra-se vitoriosa e prescinde de freios ou de amortecedores sociais. De forma ávida e célere, ela vaticina não haver espaço para um Direito do Trabalho tutelar dos/as trabalhadores/as.
Tampouco se constata razão de existir a um órgão especializado no Poder Judiciário que tem por função dirimir os conflitos entre capital e trabalho, mesmo que isso na prática venha a representar na maior parte do tempo aplicar a legislação protetiva em dissídios individuais e constranger a atuação sindical no âmbito coletivo.
A miopia do empresariado brasileiro impede-o de vislumbrar a importância da Justiça do Trabalho para a estabilidade do capitalismo nacional. Este empresariado, culturalmente transgressor de direitos, aparenta encontrar-se ressentido com decisões judiciais em dissídios individuais, mas não reconhece, de outro lado, o papel desempenhado por essa estrutura do Poder Judiciário nas relações coletivas de trabalho. A dificuldade de enxergar a ambiguidade do papel cumprido pela magistratura trabalhista explica a sanha patronal em pretender esvaziar o poder dela, algo saliente em parte das modificações introduzidas pela Lei 13.467. de 2017.
Ao alcançar os 80 anos, essa senhora, já idosa, fragilizada por um ambiente externo hostil, vem convivendo com perigos intestinos. De maneira paradoxal, uma parte da magistratura do trabalho parece conspirar para o processo que pode levar a sua própria extinção. Nem se faz referência, aqui, embora pertinente, às inúmeras decisões declinando competência material de conflitos que resultam da relação de trabalho. Abdicar desta competência é abdicar de poder. Aliás, alinhadas com recentes julgados no Supremo Tribunal Federal que retiram da Justiça do Trabalho a capacidade de apreciar litígios decorrentes da relação de trabalho em clara contraposição ao estabelecido na Constituição Federal.
De fato, refere-se às inúmeras decisões judiciais, nos mais diversos cantos do país, conferindo validade jurídica ao atentando contra o direito de acesso à justiça de trabalhadores/as, introduzido pela Reforma Trabalhista.
Os critérios legais, definidos na CLT reformada, para concessão de assistência judiciária gratuita e a regra de pagamento de honorários de sucumbência tornaram a Justiça do Trabalho, potencialmente, mais cara aos pobres do que qualquer outro ramo do Poder Judiciário. De modo corriqueiro, circulam, inclusive por veículos de comunicação da imprensa tradicional, decisões de primeira e segunda instâncias condenando a parte autora, na maior parte das vezes algum/a miserável ou recém promovido/a à pobreza, ao pagamento de dezenas de milhares de reais de honorários de sucumbência e de custas judiciais.
Essa parcela da magistratura mostra-se comprometida com os ideais dos reformadores da CLT que buscaram cercear o acesso da classe trabalhadora à Justiça do Trabalho. Também não surpreende tratar-se do mesmo segmento que vem interpretando as modificações legislativas, em Direito Sindical, de forma prejudicial aos sindicatos profissionais, o que contribui para a maior fragilização dessas entidades de defesa de trabalhadores/as.
Também se mostra preocupante o uso da magistratura do trabalho como mera homologadora de acordos extrajudiciais, mais uma das novidades trazidas pela Lei 13.467, de 2017. Sem sequer existir um litígio, sem a instauração da lide, empregador e ex-empregado/a podem celebrar um acordo extrajudicial e obter a chancela judicial a fim de conferir eficácia liberatória geral, isto é, o poder de quitar extinto contrato de trabalho, sem que a parte autora possa mais reclamar qualquer outro direito. É a transformação da Justiça do Trabalho em um cartório.
A seguir esse rumo, com um movimento sindical enfraquecido e sem conseguir apresentar-se como ameaça concreta ao capital, e com os/as trabalhadores sem acesso à Justiça do Trabalho, passará a fazer cada vez menos sentido preservar-se um ramo especializado do Poder Judiciário para dirimir os conflitos entre capital e trabalho.
A representação política do grande capital e os ideólogos neoliberais não tardarão a defender a extinção da Justiça do Trabalho e a propor outras modalidades de solução de conflitos nas relações sociais de produção. Cartórios e instituições privadas de mediação e arbitragem estão à espreita da modificação legislativa que lhes franqueie o acesso a atuar nos conflitos individuais e coletivos de trabalho.
A Justiça do Trabalho, a senhora octogenária, encontra-se bem debilitada. Um capitalismo triunfante e hegemônico pretende imputar um ponto final a sua história. No entanto, mais ameaçador é o perigo interno, que vem de parte de seus próprios organismos. Uma importante fração da magistratura trabalhista, dotada de racionalidade neoliberal, conspira com suas decisões para a autodestruição.
Sem pretender ser exaustivo, os remédios, todavia, parecem amargos ou fora de alcance. Uma das possíveis alternativas, para se desviar a rota desse temível destino, seria a classe trabalhadora organizada, empobrecida e com o futuro comprometido pelas reformas neoliberais, retomar os movimentos do início do século passado que induziram o Estado a legislar em matéria de Direito do Trabalho. Tal perspectiva, atualmente, soa tão surreal como se extraída de uma das obras de Garcia Márquez.
O outro caminho reside na disputa interna. A magistratura do trabalho não pode ser tomada como um bloco monolítico, constituída por pessoas que detenham uma forma homogênea de pensar ou de existir. Bem ao contrário disso. Sempre existiu e continuará a existir correlação de forças, gerando forte embate entre diferentes correntes entre magistrados/as.
A síntese resultante da relação dialética constituída a partir do confronto interno na magistratura do trabalho aponta, atualmente, para o predomínio de decisões que aplicam de modo acrítico (ou suicida) a reforma de cunho neoliberal.
Deve-se observar que os/as elaboradores/as da antítese se veem ainda constrangidos nos seus atos decisórios pelos contemporâneos instrumentos legais que permitem aos tribunais superiores imporem às demais instâncias sua jurisprudência consolidada. Reclamações correicionais, reclamações constitucionais, mandados de segurança, entre outros, são adotados como forma de impedir a construção de jurisprudências minoritárias e de modo a garantir que as modificações jurisprudenciais sejam movimentos originados nas altas cortes, o que torna a resistência muito mais complexa e difícil. Sem contar a utilização de ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, onde os direitos sociais vêm sendo flexibilizados negativamente, tão bem exemplificadas na ADPF 324, cujo julgamento escancarou as portas para a terceirização de mão de obra irrestrita, desconstruindo algumas décadas de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido contrário.
Os conflitos entre capital e trabalho continuarão a existir e a suscitar, sob o modo de produção capitalista, uma solução institucional. Há mais de 80 anos, a Justiça do Trabalho vem atuando para oferecer a resposta do Estado com a finalidade de promover o apaziguamento nas relações sociais de produção, equacionando o conflito ao lhe conferir uma decisão. Certa ou errada, restará a compreensão das partes de existência de uma válvula de escape para pôr fim ao conflito. Sem a Justiça do Trabalho, o Estado haverá de construir alternativas para a substituí-la. A considerar o rumo dos acontecimentos, não parece leviano afirmar que, muito provavelmente, alternativas piores.
A defesa da Justiça do Trabalho compete, sim, à classe trabalhadora, à advocacia trabalhista, mas, principalmente, à magistratura do trabalho que precisa recuperar os fins para os quais ela foi criada, com a ideia de servir como anteparo institucional nas relações de trabalho ao aplicar o tutelar Direito do Trabalho. Quem sabe, assim, retomando as suas origens sociais se tornará possível, em um futuro não muito distante, promover-se alterações que venham a transformá-la em uma Justiça Social.
*Nasser Ahmad Allan, mestre e doutor em Direito pela UFPR, advogado trabalhista e sindical em Curitiba, sócio de Gonçalves, Auache, Salvador, Allan e Mendonça Advocacia, integrante da Rede Lado.
Coautores:
*Eduardo Surian Matias, formado em Direito pela PUC Campinas (1986). Advogado trabalhista e sindical, sócio da LBS Advogados, integrante da Rede Lado.
*Antônio Vicente Martins, formado em Direito pela UFRGS (1985). Advogado trabalhista e sindical em Porto Alegre, sócio de AVM Advogados, integrante da Rede Lado.
por Rede Lado | set 30, 2021 | Blog, Cultura, Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Diversidade, Geral
“No meio da Universidade eu fui contatado para deixar o curso e me transferir para um clube de futebol no Paraná, o Paranavaí. Ofereciam um salário mínimo, moradia e pagavam um curso na faculdade da cidade, porém, eu estava na Federal em Porto Alegre (UFRGS). Felizmente eu tive bom senso e não aceitei a proposta. Minha formatura em Direito foi em 1973.” Antônio Carlos Maineri percorreu vários caminhos antes de ser advogado trabalhista.
Fez estágio em um grande escritório de Porto Alegre onde trabalhou com advogados e professores da UFRGS e PUC-RS, lá, conheceu uma outra integrante da Rede Lado, Gisa Nara Machado. Depois de formado, fez um curso em Haia, na Holanda, sobre Direito internacional Privado. “Na volta deste curso, fiz um concurso para advogar no Instituto Nacional de Pesos e Medidas, hoje o INMETRO, que antes era INPM. Fui aprovado e assumi. Eu gostava muito do que fazia. Foi lá que nasceu em mim a defesa do consumidor e a defesa dos Direitos Coletivos. Fui advogado no INPM por 12 anos, deixei o cargo com alguma dor, mas decidi me dedicar a advocacia,” Maineri.
Lembra de uma importante fase na área jurídica, fora da advocacia do trabalho, que fez parte da história de Maineri: trabalhar no Grêmio. Foi Diretor do Jurídico do time em 1976 e depois vice jurídico em 1991, saiu, voltou no mesmo ano como vice-presidente de futebol, até ser Diretor de Futebol em 1999. Hoje, é conselheiro jubilado do time. Na advocacia trabalhista, rumou para a área bancária, principalmente nas causas de complementação de aposentadoria. “Ali meus antigos sócios observaram meu trabalho. Então ingressei no escritório com o Tarso Genro, Rogério Coelho e Milton Camargo. Depois, mudamos para o atual nome, Camargo, Catita, Maineri, com novos sócios, com a chegada do João Catita. Hoje o escritório conta com outros sócios também.” O escritório CCM tem mais de 35 anos de experiência em advocacia trabalhista.
Também lecionou durante 18 anos na Pontifícia Universidade Católia do Rio Grande do Sul como professor de Direito, além de ter sido banca em concursos de Juiz do Trabalho por três vezes. Conta que já dormiu com provas antes do concurso, pois não havia outro tipo de opção para proteger o teste seletivo. Em 2005, ganhou o prêmio “Mestre Jurídico” da OAB-RS, como bom advogado e bom professor. Em 2018, Maineri se aposentou da advocacia, mas não se desvinculou do escritório. “Sempre tive uma advocacia técnica e artesanal, muito dedicado ao cliente. Gostava muito das causas que envolviam complementação de aposentadoria, causas sindicais, relação de emprego e me preocupava com algo, isso tanto no escritório quando na docência, que é o que chamo de inquietação jurídica. Essa curiosidade pelo Direito, a pesquisa, a preocupação no desenvolvimento no ramo trabalhista.”
Momento marcante
Reitera o acompanhamento sempre contundente nas greves dos bancários. Lembra de um momento que foi escalado para fazer uma sustentação oral em um processo do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre contra o banco Bradesco e o processo já estava em execução. “Fui para o julgamento, lá estavam os advogados do Bradesco e o Juiz Relator tomou a palavra e disse: ‘Dr. Maineri, o colega que iria representar o banco pediu adiamento pois está representando o Brasil na Organização Internacional do Trabalho, na Suíça, e estou postulando a sua concordância ou não.’ O advogado em questão era Mozart Victor Russomano, que tinha sido presidente do Tribunal Superior do Trabalho e estava advogando para o Bradesco. Aceitei o adiamento e esperei a nova sessão. Chegou o dia que ele estava presente e reiterei que gostaria que ficasse marcado no meu currículo que sustentei na tribuna com o Dr. Russomano.”
Fora a parte da advocacia trabalhista, Maineri conta um momento emblemático enquanto estava no jurídico do Grêmio. Eram as finais entre Grêmio e São Paulo e quem ganhasse seria o campeão brasileiro, o jogador Vilson Tadei levou uma suspensão de dois jogos e não poderia jogar as finais. “O treinador do Grêmio me chamou e disse: eu preciso desse jogador em campo, senão, não iremos ganhar. Fui para o Rio de Janeiro tentar desconstituir a punição e não consegui. Comecei a entrar com recurso, agravo, efeito, até que eu fiz um recurso pedindo efeito suspensivo desta pena de dois jogos. Fui à sede do Conselho Nacional de Esportes no Rio, passei por todas as instâncias da Justiça Esportiva, e às 16h da tarde do dia do jogo eu estava pedindo efeito suspensivo. Consegui às 17h e o jogo era às 21h, em Porto Alegre. Fiquei no Rio enquanto um colega levava a liminar que suspendia a punição. O jogador jogou o primeiro jogo, mas fiquei no Rio para garantir que o São Paulo não cassasse a decisão. Perdi os dois jogos ao vivo, mas o Grêmio foi campeão.”
Lado e Lado
“Minha madrinha foi Cristina Kaway Stamato e meu padrinho foi Antônio Vicente Martins. Mesmo aposentado, acompanho a Lado por considerar um movimento importante para além das relações de amizade, é um fortalecimento de pessoas que acreditam na criação coletiva.” Antônio Carlos Maineri.
por Rede Lado | set 23, 2021 | Blog, Cultura, Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Diversidade, Geral
A exclusão dos idosos do mercado de trabalho é uma realidade que pode se tornar ainda mais estigmatizada após a decisão da OMS sobre o termo “velhice” como doença. Leia mais na matéria!
(mais…)
por Rede Lado | set 22, 2021 | Blog, Cultura, Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Diversidade, Geral, NewsLado
A uberização do trabalho já ultrapassou a bolha dos aplicativos de entrega e de locomoção. O número de pessoas trabalhando remotamente também aumentou, de acordo com relatório de 2021 da Organização Internacional do Trabalho. Há, agora, as plataformas conhecidas como “plataformas de microtrabalhos”, “trabalho fantasma” ou “trabalho de clique”.
Em pesquisa liderada pelo professor Rafael Grohman na Universidade do Vale do Rio dos Sinos junto a Universidade de Cambridge, mostrou-se que, por meio de plataformas de fazendas de cliques, políticos, empresas, influenciadores e outros profissinais podem comprar seguidores e curtidas em redes sociais como YouTube, Instagram e TikTok. Com cerca de 170 reais é possível comprar 2000 seguidores, mas esses seguidores prometem ser “reais” e isso não é feito com impusionamento automatizado, mas sim, com uma multidão de trabalhadores ganhando menos de um centavo por tarefa.
De acordo com o estudo, essas plataformas de cliques podem ser algo parecido como um “parasita” de redes sociais, pois dependem delas para conseguir o que é o grande trunfo de qualquer empresa e pessoa que quer se fundamentar na internet: engajamento. Para isso, os trabalhadores têm de se manter em diversas contas, muitas delas são falsas. Há debates sobre o assunto no que tange a busca por melhores condições de trabalho a quem opera nestas plataformas, políticas públicas de regulamentação, debates sobre e circulação de informações falsas.
O debate sobre o assunto já ultrapassa a esfera acadêmica e traz discussões de como lidar com a nova realidade laboral em vista dos tempos atuais. Greves destes trabalhadores já foram feitas junto de articulações com youtubers que falam sobre “ganhar renda extra”. O estudo mostra que, os “bots”, muitas vezes, são humanos.
Mariana Ornelas – Rede Lado
por Rede Lado | set 21, 2021 | Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Diversidade, Geral
Sabia que você pode sofrer desse mal? Em alguma medida, todos sofremos, mas o alento é que tem cura e se chama conhecimento. Vamos entender juntos?
O capacitismo é o preconceito dirigido às pessoas com deficiência, a partir da premissa de que não somos capazes de estudar, trabalhar, competir, ter vida sexual nem realizar as tarefas do dia a dia, justificando atitudes discriminatórias. Ele começa nos termos usados para nos definir, ao longo da história: aleijados, inválidos, loucos, excepcionais ou simplesmente deficientes, palavras que refletem o olhar depreciativo.
Além dessas, algumas palavras e expressões que usamos são capacitistas e nem percebemos que podem ser muito ofensivas: louco; maluco; retardado; imbecil; capenga; deformado; autista, “cego de raiva.”, “dar uma de João sem braço.”, “não temos braço para realizar essa tarefa”, “desculpa de aleijado é muleta.” e tantas outras que reforçam o segregacionismo.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, é a norma brasileira que se destina a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Nele, está a definição de Pessoa com Deficiência: quem tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Já as barreiras são definidas como: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros.
A Lei considera discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Destaca ainda que é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
A mentalidade da “incapacidade” foi responsável por nos trancafiarmos em quartos escuros, distantes do convívio social, criados como a vergonha que as famílias devessem esconder. Na natureza, alguns se livram das crias diferentes, como um reflexo para assegurar a sobrevivência da espécie na batalha da evolução. Humanos pensam e podem modificar o ambiente de modo a auxiliar a evolução da sua espécie com a inclusão da diversidade. Humanos são capazes de promoverem uma sociedade plural e que assegure o florescimento de todos os seus membros. Mas, quantos de nós não continuamos medindo os outros a partir dos resquícios da animalidade instintiva ou de argumentos que nunca paramos para questionar se tinham fundamento?
Estamos saindo dos porões. Com a criação de políticas públicas e eliminação de barreiras, podemos sair também dos sinais, das ruas, dos programas de caridade, dos benefícios assistenciais e adquirirmos a cidadania plena, como atores sociais aptos a construirmos um país mais humano. Uma longa e proveitosa jornada da qual não vamos recuar.
No universo do trabalho, há bastante trabalho a ser feito. A Lei 8.213/91 prevê as cotas nas empresas, em seu artigo 93, mas somente o faz naquelas que possuam a partir de 100 empregados, o que dificulta ainda mais a contratação numa realidade de queda abrupta dos postos formais de trabalho, com o avanço da automação. Essa garantia acaba servindo de desculpa para a ausência dessa população em lugares sem indústrias ou grandes corporações. Por uma via inversa, acaba por fortalecer o capacitismo.
Estudo divulgado no site Jornalista Inclusivo mostra um dado preocupante no universo do trabalho: 7 em cada 10 brasileiros com deficiência acreditam que empresas têm preconceito na contratação. Nem todo mundo tem disposição para o enfrentamento de preconceitos, especialmente quando falta representatividade para a luta coletiva ou quando essa representatividade é assistencialista ou “para cumprir cota”. Quantas pessoas não deixam de lutar pela empregabilidade pelas barreiras de locomoção, acesso ao local de trabalho, banheiros adaptados, locais adequados pra refeições nas proximidades? Vivemos cheios de ausências.
A consequência se reflete na presença de pessoas com deficiência nos postos de trabalho formais: dados recentes da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgados pelo Ministério da Economia, confirmam a ocupação de apenas 1% das vagas dos 46 milhões de vínculos no país. Este dado, confrontado com o censo de 2010, de que somos cerca de 6,7% da população, leva à pergunta: onde estão essas pessoas? Recebendo benefício assistencial do INSS? Quais as políticas públicas para reverter essa realidade?
Mentalidades não mudam por milagre. É importante o trabalho das leis, e da educação, mas é essencial o da visibilidade. Não adianta as empresas cumprirem as cotas nos piores postos ou nas salinhas mais afastadas. É preciso que essas pessoas apareçam, sejam mostradas na mídia em situações cotidianas de trabalho, estudo, participação social e não como atração de programa para derramar lágrimas ou incentivar piedade. O foco precisa sair das limitações e do discurso de superação para a naturalidade de uma vida com a eliminação das barreiras.
Não precisamos de novelas que nos façam voltar a enxergar no último capítulo, ou a levantar da cadeira de rodas, ou da cirurgia milagrosa. Precisamos de um novo olhar, humano e inclusivo, de políticas efetivas de eliminação de barreiras, da presença naturalizada em todos os espaços sociais. Precisamos que se afaste o capacitismo do nosso caminho, para que possamos passar com nossa igualitária humanidade.
Meirivone Ferreira de Aragão – advogada, sergipana, sócia do Britto, Inhaquite, Aragão, Andrade e Advogados Associados, PCD, integrante da Rede Lado e da ABJD.
Texto veiculado na Carta Capital
por Rede Lado | set 17, 2021 | Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Diversidade, Geral
Neste ano, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ lançou como meta para os próximos anos a implantação e o desenvolvimento do programa Justiça 4.0, cujo objetivo é tornar a Justiça brasileira 100% digital. É provável que o lançamento do programa nesse momento se deva às adaptações que tiveram de ser feitas na forma de entrega da prestação jurisdicional durante o período da pandemia do COVID -19.
Desde março de 2020, as atividades presencias nos tribunais estão suspensas, tanto para os jurisdicionados, quanto para servidores, magistrados e advogados. As dificuldades do momento demandam paciência, resiliência e criatividade de todos os que trabalham e dependem do funcionamento contínuo da Justiça. O uso predominante da internet e de ferramentas digitais tem possibilitado a continuidade do trabalho na advocacia, visto que audiências e sessões de julgamentos estão sendo feitas, via reunião online, com a presença de advogados, magistrados, partes e testemunhas. O quase domínio da tecnologia da informação e do computador como ferramenta, tornou-se requisito essencial para a atuação na advocacia, sendo que para o advogado jovem, a familiaridade mostrou-se natural. Muito embora o jovem advogado tenha maior domínio em relação as ferramentas tecnológicas, a advocacia que lhe é oferecida na grande maioria das vezes é precária, onde as condições de trabalho nem sempre são adequadas, muitas das vezes com a necessidade dele até valer-se de meios próprios para exercê-la, com contratação a margem da lei. Se os tempos do avanço tecnológico é excludente ao advogado idoso, ele é em muito restritivo e excludente ao jovem advogado
Já para o advogado idoso, o novo cenário é uma antecipação sem precedentes de um processo de adaptação que se iniciou em 2013 com a implantação do PJe e que ainda estava em ordem de absorção antes da Pandemia. Se o debate em torno da inclusão digital do advogado idoso já era uma pauta necessária, hoje é obrigatória, diante da perpetuação do uso massivo dos meios digitais para o exercício da profissão.
De acordo com dados da OAB Nacional, hoje são 219.638[1] advogadas e advogados ativos no Brasil acima de 60 anos de idade, número que justifica a necessidade do debate em torno da inclusão digital tanto por parte da OAB, no papel de entidade representativa de classe, quanto do próprio poder judiciário como poder constituído, cujo dever é alinhar-se às políticas de promoção e valorização do trabalho do idoso, conforme prevê o Estatuto do Idoso. O processo de digitalização da Justiça tem sido cada vez mais ousado, o que por sua vez exige do trabalho da advocacia familiaridade com o mundo digital. A novidade da vez é a digitalização dos processos para formação de um big data jurídico que alimentará a inteligência artificial: “alimentar o DataJud de forma automatizada e transformar, em texto puro, decisões e petições, a fim de ser utilizado como insumo de modelo de IA.”[2] A questão é que, quando os advogados idosos estão se acostumando com PJe e se despedindo do processo
físico, já há a inteligência artificial sendo alimentada para proferir e prever decisões.
Toda essa movimentação é resultado da expansão da internet – internet ubíqua – fluidez, rapidez no processamento de informações e internet das coisas, características da Quarta Revolução Industrial de Klaus Schawb. O evidente avanço tecnológico propiciado por essa fluidez de dados alcançou o trabalho na advocacia e o modificou profundamente, criando patamares de distinção entre aqueles que possuem domínio no uso de ferramentas tecnológicas (geralmente os jovens) e aqueles que não tiveram a possibilidade de acompanhar a mudança na mesma velocidade. Constata-se, portanto, que a adoção cega da tecnologia, sob o signo do avanço puro e simples, dissociada da ideia de adaptação, nem sempre é símbolo de evolução e progresso, porque ao longo do caminho alguns ficam para trás. Assim como a Quarta Revolução Industrial não chegou para todos ainda, o mesmo ocorre com a Justiça 4.0, que não chegará para os idosos que não possuem o conhecimento necessário do uso de ferramentas indispensáveis para a atuação nesse novo conceito de justiça proposto. Fala-se em inteligência artificial quando o protocolo de peças processuais e as provas no formato de áudio e vídeo ainda são um calvário, até mesmo para os mais jovens.
Após mais de um ano de pandemia em que a autuação na advocacia segue ocorrendo integralmente no formato digital, discute-se a perenidade dessa “nova” forma de advogar. Fato que não é nem um pouco incômodo para o CNJ, que já leva em frente o projeto de digitalização da Justiça. Aparentemente, por entender que tudo tem funcionado sem maiores problemas. Porém, o mundo real não é 4.0 para o advogado idoso, tendo em vista que os sinais de esforços por parte das instituições responsáveis pela inclusão digital ainda são incipientes ou inexistentes.
Não se trata aqui de desmerecer a digitalização da Justiça, mas sim de alertar para a necessidade de implementações tecnológicas de modo a permitir a inclusão simultânea dos advogados, sob pena de se preterir a riqueza de conhecimento acumulado por esta parcela expressiva da advocacia. Vale lembrar que ferramentas digitais não possuem vida própria e que haverá sempre a necessidade de um advogado experiente para alimentar a inteligência artificial com teses jurídicas desenvolvidas ao longo de anos de prática e estudo. A descartabilidade digital não deve envolver o advogado idoso que, sob essa ótica, faz parte do presente da advocacia tanto quanto o advogado jovem.
Há dois caminhos no horizonte, a exclusão progressiva do advogado idoso causada pela implantação da tecnologia como única porta de acesso, ou, a inclusão, a qual deve necessariamente se iniciar pelo chamamento público ao debate desses 219.638 advogados idosos inscritos, a fim de se mapear e expor as reais barreiras encontradas para o desempenho da atividade. Somente assim será possível a criação de políticas efetivas de inclusão dos advogados idosos na advocacia digital.
Vale registrar, por fim, as palavras de uma advogada, aluna do curso de inclusão digital realizado no Paraná em 2017, as quais sintetizam a urgência do debate: “O primeiro encontro foi uma experiência extremamente positiva. Os colegas muito envolvidos, comprometidos, com ânsia de aprender. Como aluna do curso senti e ouvi o quão agradecidos eles estão por serem lembrados e valorizados, num momento em que a tecnologia vem sendo aplicado em todos os aspectos da vida profissional e cotidiana”.[1]
A construção de uma Justiça 4.0 distante da realidade dos idosos, e até como forma de exclusão e precarização para a juventude, não pode significar ou materializar-se como avanço, quando para sua implantação profissionais ficam pelo caminho.
Meilliane P. Vilar Lima – Advogada LBS e mestranda em Direito do Trabalho e Relações Sociais
[1] https://www.caapr.org.br/noticia/1919/curso-de-inclusao-digital-para-adultos-insere-advogados-no-mundo-da-informatica/
[2] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/